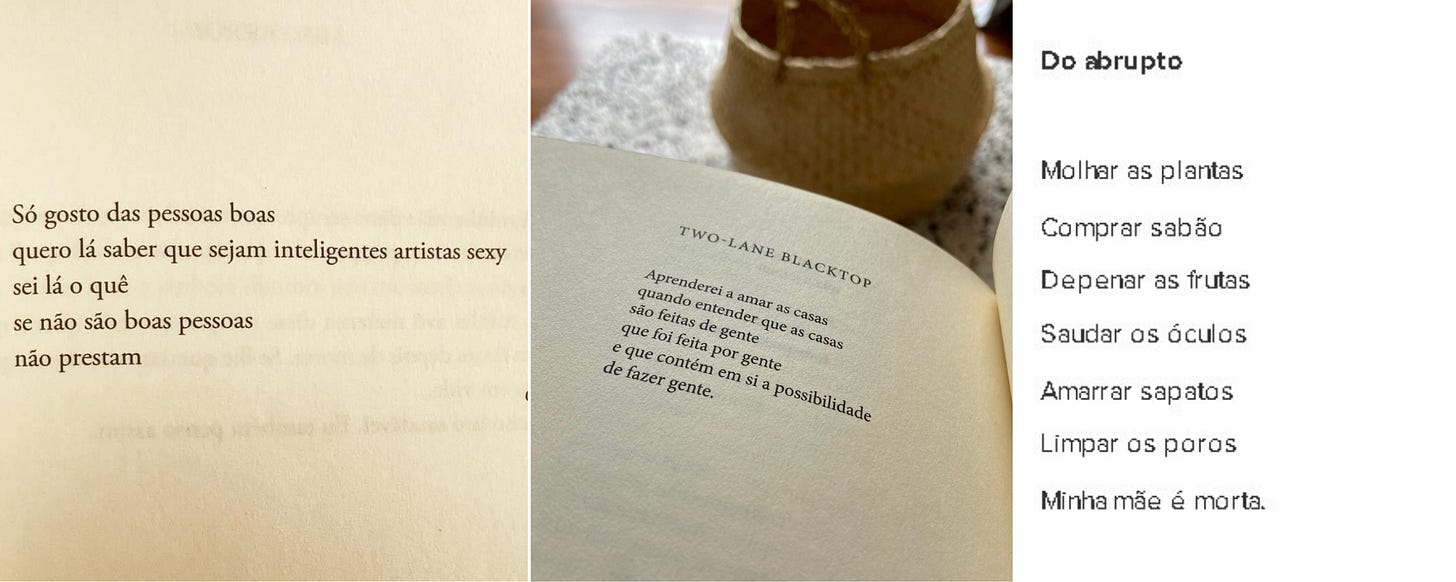Contos, crónicas e poemas
«Natal na barca», por Lygia Fagundes Telles
21/12/2023
Este conto foi extraído da coletânea Antes do baile verde (publicada originalmente em 1970), de autoria de Lygia Fagundes Telles − considerada a dama do conto brasileiro e uma das maiores escritoras da história da literatura brasileira –, falecida em 2022, aos 103 anos. Fé e ceticismo, simbolismos e dualidades revestem essa história que atravessa uma noite de Natal em determinada zona do Nordeste do Brasil.
Não quero nem devo lembrar daqui por que me encontrava naquela barca. Só sei que em redor tudo era silêncio e treva. E me sentia bem naquela solidão. Naquela embarcação desconfortável, tosca, apenas quatro passageiros. Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante: um velho, uma mulher com uma criança e eu.
O velho, um bêbado esfarrapado, deitaram-se de comprido no banco, dirigia palavras amenas a um vizinho invisível e agora dormia. A mulher estava sentada entre nós, apertando nos braços a criança enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida. O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça dava-lhe o aspecto de uma figura antiga.
Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca. Mas já devemos estar quase no fim da viagem e até aquele instante não me ocorrera dizer-lhe qualquer palavra. Nem combinava mesmo com a barca tão despojada, tão sem artifícios, a ociosidade de um diálogo. Estávamos sós. E o melhor ainda era não fazer nada, não dizer nada, apenas olhar o sulco negro que a embarcação ia fazendo no rio.
Debrucei-me na grade de madeira carcomida. Acendi um cigarro. Ali estávamos os quatro, silenciosos como mortos num antigo barco de mortos deslizando na escuridão. Com tudo, estávamos vivos. E era Natal.
A caixa de fósforos escapou-me das mãos e quase resvalou para o rio. Agachei-me para apanhá-la. Sentido então alguns respingos no rosto, enclinei-me mais até mergulhar as pontas dos dedos na água.
– Tão gelada – estranhei, enxugando a mão.
– Mas de manhã é quente.
Voltei-me para a mulher que embalava a criança e me observava com meio sorriso. Sentei-me no banco ao seu lado. Tinha belos olhos claros, extraordinariamente brilhantes. Vi suas roupas ruídas tinham muito caráter, revestidas de uma certa dignidade.
– De manhã este rio é quente – insistiu ela, me encarando.
– Quente?
– Quente e verde, tão verde que a primeira vez que lavei nele uma peça de roupa, pensei que a roupa fosse sair esverdeada. É a primeira vez que vem por estas bandas?
Desviei o olhar para o chão de largas tábuas gastas. E respondi com uma outra pergunta:
– Mas a senhora mora aqui por perto?
– Em Lucena. Já tomei esta barca não sei quantas vezes, mas não esperava que justamente hoje...
A criança agitou-se, choramingando. A mulher apertou-a mais contra o peito. Cobriu-lhe a cabeça com o xale e pôs-se a niná-la com um brando movimento de cadeira de balanço. Suas mãos destacava-se exaltadas sobre o xale preto, mas o rosto era tranquilo.
– Seu filho?
– É. Está doente, vou ao especialista, o farmacêutico de Lucena achou que devia consultar um médico hoje mesmo. Ainda ontem ele estava bem, mas de repente piorou. Uma febre, só febre.... – Levantou a cabeça com energia. O queixo agudo era altivo, mas o olhar tinha a expressão doce. – Só sei que Deus não vai me abandonar.
– É o caçula?
– É o único. O meu primeiro morreu o ano passado. Subiu no muro, estava brincando de mágico quando de repente avisou, “vou voar!” . A queda não foi grande, o muro não era alto, mas caiu de tal jeito... tinha pouco mais de quatro anos.
Atirei o cigarro na direção do rio, mas o toco bateu na grade e voltou, rolando aceso pelo chão. Alcancei-o com a ponta do sapato e fiquei a esfregá-lo devagar. Era preciso desviar o assunto para aquele filho que estava ali, doente, embora. Mas vivo.
– E esse? Que idade tem?
– Vai completar um ano. – E, no outro tom, inclinando a cabeça para o ombro: – Era um menino tão bonzinho, tão alegre. Tinha verdadeira mania com mágicas. Claro que não saía nada, mas era muito engraçado... Só a última mágica que fez foi perfeita. “Vou voar”, disse abrindo os braços. E voou.
Levantei-me. Eu queria ficar só naquela noite, sem lembranças, sem piedade. Mas os laços – os tais laços humanos – já ameaçavam me envolver. Conseguira evitá-los até aquele instante. Mas agora não tinha forças para rompê-los.
– Seu marido está a sua espera?
– Meu marido me abandonou.
Sentei-me novamente e tive vontade de rir. Era incrível. Fora uma loucura fazer a primeira pergunta, mas agora não podia mais parar.
– Há muito tempo?
– Faz uns seis meses. Imagine que nós vivíamos tão bem, mas tão bem! Quando ele encontrou por acaso com uma antiga namorada, falou comigo sobre ela, fez até uma brincadeira, “a Duca enfeiou, de nós dois fui eu que acabei ficando mais bonito...” E não falou mais no assunto. Uma manhã ele levantou como todas as manhãs, tomou café, leu o jornal, brincou com o menino e foi trabalhar. Antes de sair ainda me acenou, e eu estava na cozinha lavando a louça e ele me acenou através da tela de arame da porta, me lembro até que eu quis abrir a porta, não gosto de ver ninguém falar comigo com aquela tela de arame no meio... Mas eu estava com mão molhada. Recebi a carta de tardinha, ele mandou uma carta. Fui morar com minha mãe numa casa que alugamos perto da minha escolinha. Sou professora.
Fixei-me nas nuvens tumultuadas que corriam na mesma direção do rio. Incrível. Ia contando as sucessivas desgraças com tamanha calma, num tom de quem relata fatos sem ter participado. Deles realmente. Como se não bastasse a pobreza que espiava pelos remendos da sua roupa, perdera o filhinho, o marido, e ainda via pairar uma sombra sobre o segundo filho que ninava nos braços. E ali estava sem a menor revolta, confiante. Intocável. Apatia? Não, não podiam ser de uma apática aqueles olhos vivíssimos e aquelas mãos enérgicas. Inconsciência? Uma obscura irritação me fez sorrir.
– A senhora é conformada.
– Tenho fé. Deus nunca me abandonou.
Deus, repeti vagamente.
– O senhor não acredita em Deus?
– Acredito – murmurei. E, ao ouvir o som débil da minha afirmativa sem saber por que, perturbei-me. Agora entendia. Aí estava o segredo daquela confiança, daquela calma. Era tal fé que removia montanhas....
Ela mudou a posição da criança, passando-a do ombro direito para o esquerdo. E começou, com voz quente de paixão:
– Foi logo depois da morte de meu menino. Acordei uma noite tão desesperada que saí pela rua a fora, enfiei um casaco e saí descalçada e chorando feito louca, chamando por ele... Sentei num banco do jardim onde toda à tarde ele ia brincar. E fiquei pedindo, pedindo com tanta força, que ele gostava tanto de mágica, fizesse essa mágica de me aparecer só mais uma vez, não precisava ficar, só se mostrasse um instante, e ao menos mais uma vez, só mais uma! Quando fiquei sem lágrimas, encostei a cabeça no banco e não sei como dormi. Então sonhei e no sonho Deus me apareceu, quer dizer, senti que ele pegava na minha mão com sua mão de luz. E vi o meu menino brincando com o Menino Jesus no jardim do Paraíso. Assim que ele me viu, parou de brincar e veio ao meu encontro e me beijou tanto, tanto... Era tal sua alegria que acordei rindo também, com o sol batendo em mim.
Fiquei sem saber o que dizer. Esbocei um gesto e em seguida, apenas para fazer alguma coisa, levantei a ponta do xale que cobria a cabeça da criança. Deixei cair o xale novamente e voltei o olhar para o chão. O menino estava morto. Entrelacei as mãos para dominar o tremor que me sacudiu. Estava morto. A mãe continuava a niná-lo, apertando-o contra o peito. Mas ele estava morto.
Debrucei-me na grade da barca e respirei penosamente: era como se estivesse mergulhado até o pescoço naquela água. Senti que a mulher se agitou atrás de mim.
– Estamos chegando – anunciou.
Apanhei depressa minha pasta. O importante agora era sair, fugir antes que ela descobrisse, era terrível demais, não queria ver. Diminuindo a marcha, a barca fazia uma larga curva antes de atracar. O bilheteiro apareceu e pôs-se a sacudir o velho que dormia:
– Chegamos! Ei! Chegamos!
Aproximei-me, evitando encará-la.
– Acho melhor nos despedirmos aqui – disse atropeladamente, estendendo a mão.
Ela pareceu não notar meu gesto. Levantou-se e fez um movimento como se fosse pegar a sacola. Ajudei-a, mas ao invés de apanhar a sacola que lhe estendi, antes mesmo que eu pudesse impedi-lo, afastou o xale que cobria a cabeça do filho.
– Acordou o dorminhoco! E olha aí, deve estar agora sem nenhuma febre.
– Acordou?!
Ela teve um sorriso.
– Veja...
Inclinei-me. A criança abrira os olhos – aqueles olhos que eu vira cerrados tão definitivamente. E bocejava, esfregando a mãozinha na face de novo corada. Fiquei olhando sem conseguir falar.
– Então, bom Natal! – disse ela, enfiando a sacola no braço.
Encarei-a. Sob o manto preto, de pontas cruzadas e atiradas para trás, seu rosto resplandecia. Apertei-lhe a mão vigorosa. E acompanhei-a com o olhar até que ela desapareceu na noite.
Conduzido pelo bilheteiro, o velho passou por mim reiniciando seu afetuoso diálogo como o vizinho invisível. Saí por último da barca. Duas vezes voltei-me ainda para ver o rio. E pude imaginá-lo como seria de manhã cedo: verde e quente. Verde e quente.
Sobre Mulheres – por Natalia Ginzburg
Outro dia me deparei com um artigo que escrevi logo após a libertação e fiquei desapontada. Era um tanto estúpido – para começar, estava todo enfeitado: sentenças bonitas e bem elaboradas, e frases bem formuladas. Não quero mais escrever assim. Pior, escrevi com fervor e convicção sobre coisas óbvias. Para ser justa, isso aconteceu com todo mundo logo após a libertação – ficar todo irritado apenas para dizer coisas óbvias. De certo modo, era a coisa certa a fazer, porque em vinte anos de fascismo perdemos qualquer noção dos valores mais elementares, e tínhamos que começar de novo, começar de novo a chamar as coisas pelo seu nome e a escrever por amor de escrever, para ver se ainda estávamos vivos.
Aquele meu artigo falava das mulheres em geral e dizia coisas que todos nós sabemos: que as mulheres não são tão piores que os homens e também podem realizar algo que vale a pena, se tentarem, se a sociedade as ajudar e assim por diante. Mas era estúpido porque não me preocupei em observar como as mulheres realmente são. As mulheres sobre as quais eu escrevia na época eram mulheres inventadas, nada parecidas comigo ou com as mulheres que conheci em minha vida; da forma que eu falava sobre elas, era muito fácil tirá-las da servidão e libertá-las. Mas deixei de dizer algo muito importante: que as mulheres têm o mau hábito, de vez em quando, de cair num poço, de se deixarem apoderar por uma terrível melancolia e se afogar nela, e depois se debater para voltar à superfície – este é o verdadeiro problema com as mulheres. Mulheres frequentemente ficam constrangidas por terem esse problema e fingem que não têm nenhuma preocupação e são livres e cheias de energia, e caminham com passos ousados pela rua com grandes chapéus e belos vestidos e lábios pintados e com ares de arrogância e obstinação.
Mas eu nunca conheci uma mulher sem logo descobrir nela algo doloroso e lamentável que não existe nos homens – um perigo constante de cair em um poço profundo e escuro, um perigo que vem justamente do temperamento feminino, ou talvez de uma condição milenar de subjugação e servidão que não será tão fácil de superar. Sempre descobri, especialmente nas mulheres mais enérgicas e orgulhosas, algo que me fazia sentir pena delas e que eu bem entendia – porque eu também sofri, já por muitos anos, e só recentemente percebi que meu sofrimento vem do fato de que sou mulher e que será difícil para mim me libertar.
A verdade é que duas mulheres se entenderão completamente quando começarem a falar sobre o poço escuro em que caíram, e poderão trocar muitas impressões sobre poços e a absoluta impossibilidade de se comunicar com os outros, de realizar algo que valha a pena, por mais que se esforcem, e das dificuldades para se voltar à superfície.
Eu conheci tantas mulheres. Já conheci mulheres com filhos e mulheres sem filhos – prefiro as com filhos porque sempre sei o que falar: quanto tempo você amamentou, e depois com o que você o alimentou e o que com o que você está alimentando agora. Duas mulheres podem falar infinitamente sobre este assunto. Conheci mulheres que podiam pegar o trem, deixando os filhos para trás por um tempo, sem sentir uma ansiedade terrível ou a sensação de fazer algo contra a natureza. Elas poderiam viver em paz por vários dias longe de seus filhos e não sentir aquele medo impetuoso e visceral de que algo ruim os tivesse acometido – que é o que sempre acontece comigo. E não é que aquelas mulheres não amassem seus filhos, elas os amavam tanto quanto eu amo os meus, elas simplesmente eram mais espirituosas. Tentei ser o mais espirituosa possível e toda vez que entrava no trem sem meus filhos dizia para mim: “Dessa vez não vou ter medo”. Mas o medo sempre cresceu em mim e o que eu ainda não entendo é se isso vai passar quando meus filhos forem adultos – certamente espero que sim. E nem consigo pensar com calma em viajar, como gostaria. Para falar a verdade, penso nisso o tempo todo, mas sei perfeitamente que simplesmente não consigo. Tem mulheres canguru e tem mulheres que não são canguru, mas tem muito mais mulheres canguru.
Então eu conheci muitas mulheres, mulheres calmas e mulheres que não são calmas, mas as mulheres calmas também caem no poço: todas caem no poço de vez em quando. Conheci mulheres que se acham muito feias e mulheres que se acham muito bonitas, mulheres que viajam e mulheres que não podem, mulheres que de vez em quando têm dor de cabeça e mulheres que nunca têm dor de cabeça, mulheres que lavam o pescoço e mulheres que não lavam o pescoço, mulheres que têm um grande número de lenços de linho branco e mulheres que nunca têm lenço ou, se têm, o perdem, mulheres que usam chapéu e mulheres que não usam chapéu, mulheres que se acham gordas demais e mulheres que se acham magras demais, mulheres que trabalham duro o dia inteiro no campo e mulheres que quebram lenha no joelho e acendem o fogo e fazem polenta e embalam o bebê e o amamentam, e mulheres que morrem de tédio e assistem aula de história da religião e mulheres que morrem de tédio e levam o cachorro para passear e mulheres que morrem de tédio e atormentam quem está por perto, seus maridos ou filhos ou a empregada doméstica, e mulheres que saem de manhã com as mãos roxas de frio e um pequeno lenço no pescoço, e mulheres que saem de manhã balançando os quadris e olhando seu reflexo nas vitrines das lojas, e mulheres que perderam o emprego e sentam-se em um banco do jardim da estação para comer um sanduíche, e mulheres que foram abandonadas por um homem e sentam-se em um banco no jardim da estação e passam um pouco de pó em seus rostos.
Conheci tantas mulheres que agora tenho certeza de que logo descobrirei em cada uma delas algo para me compadecer – uma grande ou pequena preocupação, mantida mais ou menos secreta: a tendência de cair no poço e encontrar nele a possibilidade de sofrimento sem limites que os homens não conhecem. Talvez porque os homens sejam mais saudáveis ou tenham mais ânimo e sejam melhores em esquecer de si mesmos e se identifiquem com seu trabalho, mais seguros de si e mais senhores do próprio corpo e da própria vida e mais livres.
As mulheres começam na adolescência a sofrer e chorar em segredo, em seus quartos – choram por causa do nariz ou da boca ou de alguma parte do corpo que não está certa ou choram porque acham que ninguém nunca vai amá-las ou choram porque têm medo de seres estúpidas ou porque têm medo de ficarem entediadas nas férias ou porque não têm as roupas certas. Estas são as razões que elas dizem a si mesmas, mas são apenas pretextos, e elas estão realmente chorando porque caíram no poço e compreenderam que muitas vezes cairão nele por toda a vida e isso tornará difícil para elas realizar qualquer coisa que valha a pena. As mulheres pensam muito sobre si mesmas e o fazem de maneira dolorosa e febril que os homens desconhecem. É muito difícil para elas se identificarem com o trabalho que fazem, é difícil para elas saírem das águas escuras e dolorosas de sua melancolia e se esquecerem de si mesmas.
As mulheres têm filhos, e quando têm o primeiro filho começa uma nova tristeza, feita de cansaço e medo, e está sempre presente, mesmo nas mulheres mais saudáveis e calmas. É o medo do filho ficar doente ou o medo de não ter dinheiro suficiente para comprar tudo que o filho precisa ou o medo de ter leite muito gordo ou leite muito líquido, é a sensação de não poder mais viajar se for o que faziam antes, ou a sensação de não poder mais fazer política ou a sensação de não poder escrever ou de não poder pintar como antigamente ou de não poder mais caminhar nas montanhas como antes, por causa do filho, é a sensação de não poder tomar decisões sobre a própria vida, é o estresse de ter que se defender da doença e da morte porque a saúde e a vida da mulher são necessárias para o filho.
E há mulheres que não têm filhos, e isso é uma infelicidade, a pior infelicidade das mulheres, porque a dada altura todas as coisas que faziam com ardor – escrever e pintar e política e esportes – tornam-se terreno baldio e tédio e saturação, essas coisas viram cinzas em suas mãos e, consciente ou inconscientemente, as mulheres têm vergonha de não ter tido filhos e começam a viajar, mas até viajar é difícil para as mulheres, porque estão com frio ou porque os sapatos machucam ou porque sua meia está desfiada ou porque as pessoas ficam surpresas ao ver uma mulher viajando e enfiando o nariz em todos os lugares. E tudo isso pode ser superado, mas depois há a melancolia e as cinzas nas mãos, e a inveja de ver janelas acesas em cidades estrangeiras; e talvez por muito tempo elas consigam superar a melancolia e caminhar sozinhas ao sol com passos ousados e fazer amor e ganhar dinheiro, e se sintam fortes e inteligentes e bonitas, nem muito gordas, nem muito magras, e comprem para si chapéus estranhos com um nó de veludo e leiam livros e escrevam livros, mas então em algum momento eles caem de volta no poço com medo e vergonha e nojo de si e não conseguem escrever livros, ou lê-los, elas não estão interessadas em nada além de seus próprios problemas, que com tanta frequência não conseguem explicar e cada uma dá um nome diferente, nariz feio, boca feia, pernas feias, tédio, cinzas, filhos, sem filhos.
E então as mulheres começam a envelhecer e procuram os cabelos brancos para arrancá-los e olham as linhas finas sob os olhos, e têm que começar a usar espartilhos grandes com dois cadarços apertados na frente e dois atrás e elas sentem-se espremidas e sufocadas neles e todas as manhãs e todas as noites observam como seus rostos e seus corpos se transformam lentamente em algo novo e lamentável que logo não servirá para nada, nem para fazer amor, nem para viajar, nem para praticar esportes, e que, em vez disso, elas terão de servir, com água quente e massagens e cremes, ou deixar-se devastar e murchar pela chuva e pelo sol, e esquecer o tempo em que eram belas e jovens.
As mulheres são de uma estirpe infeliz e malfadada com muitos séculos de servidão nas costas, e o que elas precisam fazer é se defender com unhas e dentes de seu hábito nocivo de cair no poço de vez em quando, porque seres livres dificilmente caem em um poço e nem sempre pensam em si mesmos, mas estão ocupados com coisas importantes e sérias do mundo e ocupados consigo mesmos apenas em um esforço para serem cada dia mais livres. Eu sou a primeira que tem que aprender a fazer isso, porque do contrário não poderei fazer nada que valha a pena e o mundo nunca melhorará enquanto for povoado por um grupo de seres que não são livres.